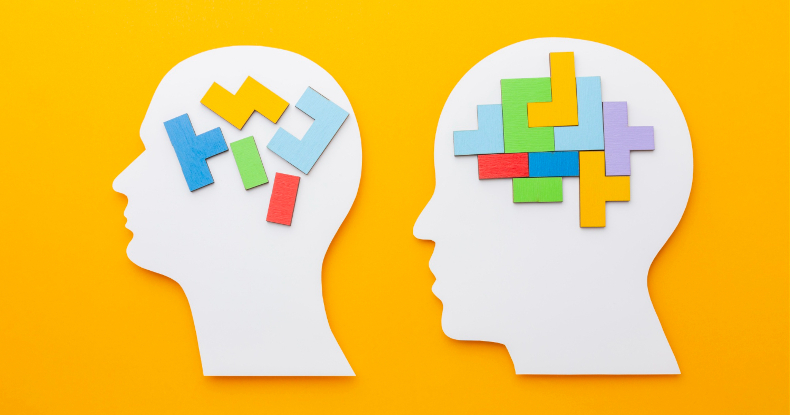Robson Gonçalves estreia na Today com uma reflexão sensível sobre como o comportamento autista revela caminhos para a saúde emocional
O avanço acelerado da neurociência vem mudando nosso modo de compreender as relações humanas. Mas, às vezes, a ênfase excessiva na tecnologia dos impressionantes exames de imagem e na farmacologia acaba desumanizando o debate. Talvez seja hora de revisitarmos temas antigos à luz desse conhecimento novo. Nesse sentido, vale refletir sobre a neurodivergência e, mais especificamente, sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Essa condição se caracteriza por dificuldades em estabelecer e manter interações sociais mutuamente satisfatórias, além de comportamentos repetitivos ou restritos. Outro aspecto associado ao TEA é a dificuldade de reconhecer emoções, tanto nos outros quanto em si mesmo. Por se tratar de um espectro, os sintomas e sua intensidade variam bastante entre indivíduos.
A neurociência tem investigado as bases biológicas do autismo, revelando alterações em diversas estruturas cerebrais associadas a processos emocionais. Já não resta dúvida de que o TEA é uma condição irreversível do neurodesenvolvimento que acompanha o indivíduo por toda a vida. Mas, o que mais nos interessa é a forma como alguns autistas lidam com sua condição. O que podemos aprender com eles?
Em primeiro lugar, o mais simples: nosso modo de vida atual — no qual o celular se tornou uma extensão do próprio corpo, as notificações chegam aos montes durante o dia todo e insistimos em nos manter hiperconectados, — nos aproxima muito do espectro autista. Não por questões biológicas, e sim por escolhas comportamentais.
Acontece que, para pessoas nos graus mais baixos do espectro autista, existem estratégias capazes de melhorar significativamente a qualidade das interações sociais, gerando benefícios em saúde mental.
Muitas dessas pessoas aprendem a identificar emoções em si mesmas e nos outros. Esse é um primeiro hábito que a maioria de nós deveria adotar, visto que estamos com dificuldades crescentes de perceber as mesmas coisas. Afinal, uma das portas de entrada para o burnout é exatamente o descaso com os estados afetivos, próprios e dos outros.
Além disso, por serem hipersensíveis, mesmo nos níveis mais baixos do espectro, os autistas também evitam sobrecargas sensoriais, criando em torno de si um ambiente que reduz o disparo de gatilhos emocionais.
Há outra lição aqui para os não autistas: limitar os “excessos de estímulo” originados, por exemplo, em discussões inúteis e acaloradas referentes a temas polêmicos relativos à religião, política, futebol e tantas outras. Nossa capacidade cognitiva é escassa e, exaurida por discussões desse tipo, costuma cobrar preços elevados em termos de performance no trabalho e fora dele.
Por fim, o tipo de empatia que costuma faltar aos autistas, em diferentes níveis, é a do tipo cognitivo. Ela consiste em compreender os sinais — gestos, expressões, tom de voz — dados por outras pessoas e associados a seus estados emocionais.
Mas muitos autistas mantêm intacta a empatia afetiva — também chamada de simpatia — que se trata de um certo tipo de contágio emocional sem que haja a tentativa de compreensão dos motivos por trás dos estados afetivos dos outros. Empatia é “sentir com o outro, pelos motivos do outro”. Já a simpatia é um contágio, o “sentir ao mesmo tempo que o outro”, mas cada um por seus próprios motivos.
No entanto, muitas pessoas atualmente preferem não exercitar nem uma coisa, nem outra, tudo em nome de um tipo falso de “distanciamento profissional” e de um “comportamento não invasivo”. Acontece que a neurociência já demonstrou que, se não exercitamos a empatia, empobrecemos os processos racionais de tomada de decisão, pois existe sempre um pano de fundo afetivo em todo processo cognitivo. Deixá-lo de lado significa tomar decisões excessivamente mecânicas e repetitivas, desconectadas de seu contexto.
Ao mesmo tempo, quanto mais deixamos de nos preocupar com as emoções e sentimentos dos outros, menos capacidade temos de compreender nossos próprios estados emocionais, o que prejudica a regulação afetiva e empobrece as relações interpessoais.
Se os autistas vivem os efeitos da própria herança genética, pessoas não autistas que abrem mão do exercício da empatia são apenas vítimas de si mesmas. E deveriam se inspirar nos autistas e adotar estratégias para melhorar sua própria saúde social e mental.